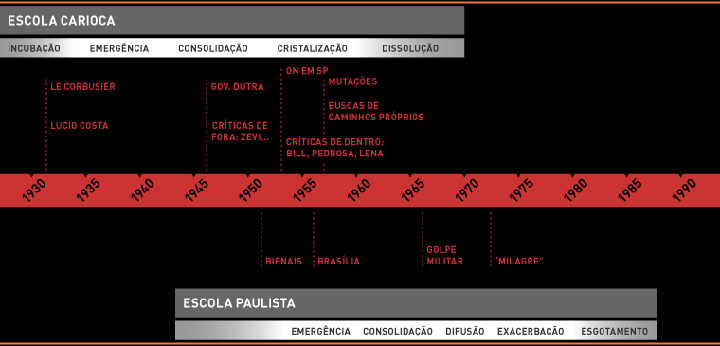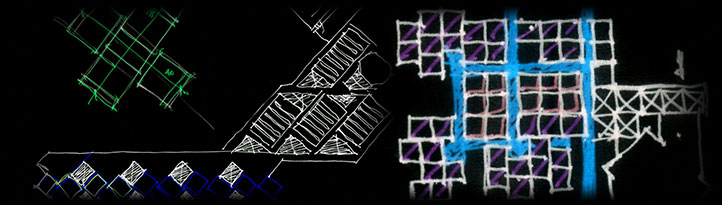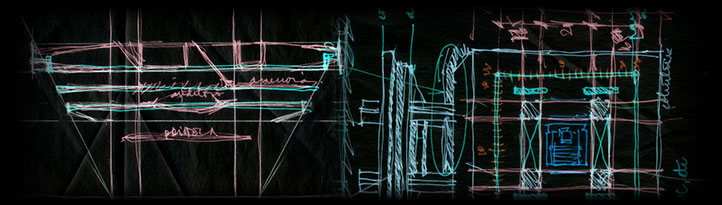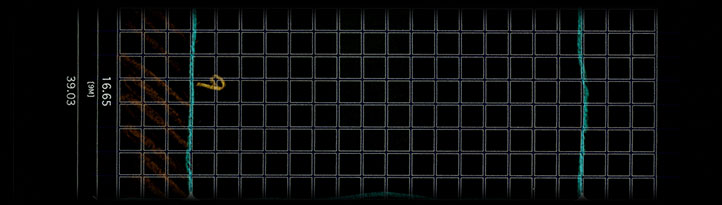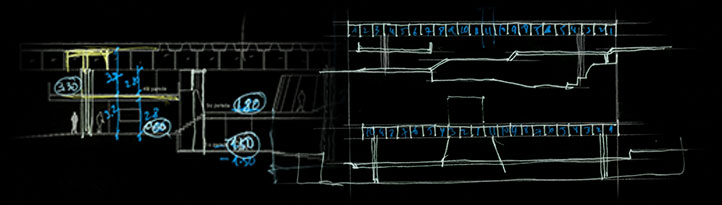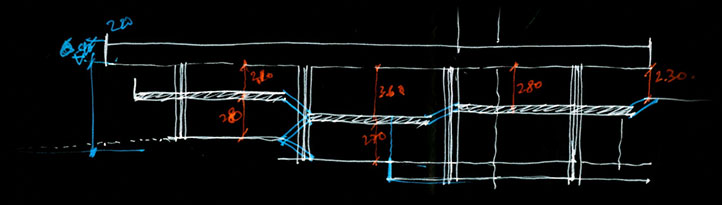| |

BRUTALISMO COMO TENDÊNCIA ARQUITETÔNICA INTERNACIONAL
A arquitetura brutalista é uma das mais marcantes tendências do panorama arquitetônico moderno, brasileiro e internacional, do período pós 2ª Guerra Mundial até pelo menos fins da década de 1970. As obras com ela identificadas caracterizam-se principalmente pela a utilização do concreto armado deixado aparente, ressaltando o desenho impresso pelas fôrmas de madeira natural, técnica que passou a ser empregada com mais freqüência na arquitetura civil naquele momento, tanto como recurso tecnológico como em busca de maior expressividade plástica. Tem como paradigma fundacional as obras do arquiteto franco-suíço Le Corbusier (1887-1965) a partir do projeto da Unité d´Habitation de Marselha (1945-1949) e suas obras seguintes, que ajudaram a conformar uma determinada linguagem arquitetônica que influenciou arquitetos e obras no mundo inteiro.
As arquiteturas de tendência brutalista de cada país ou região guardam proximidades entre si e assumem em cada caso características peculiares, seja trabalhando outras influências, seja enfatizando diferentes aspectos tecnológicos e construtivos, e distintos debates éticos e conceituais, conforme seus marcos culturais. Embora as obras do brutalismo inglês (ou New Brutalism) sejam mais conhecidas internacionalmente, graças à divulgação de Reyner Banham, a pesquisa que vem sendo realizada sobre o brutalismo no panorama internacional identificou que as mesmas não tem de fato precedência temporal ou conceitual em relação às diversas outras arquiteturas brutalistas de vários outros paises e regiões, já que todas essas são absolutamente contemporâneas, configurando um panorama múltiplo e não hierárquico, conectado apenas lateralmente; situação que o próprio Banham define como uma “conexão internacional brutalista”.
TENDÊNCIA BRUTALISTA NA ARQUITETURA BRASILEIRA
No Brasil a tendência brutalista comparece a partir de início dos anos 1950 em obras no Rio de Janeiro e São Paulo, ganhando certo destaque na obra de uma nova geração de talentosos arquitetos paulistas que despontava naquela década. O início da tendência brutalista no Brasil é concomitantemente, e não posterior, ao concurso e construção de Brasília, embora ganhe mais notoriedade e se consolide nos anos 1960 quando passa a repercutir nacionalmente. Nem naquele momento nem depois a arquitetura brutalista paulista torna-se hegemônica, seja em São Paulo ou no Brasil, tendo sempre convivido simultaneamente com outras tendências e propostas, baseadas em outras orientações. A pesquisa constatou também certo grau de heterogeneidade formal e material no conjunto das obras da arquitetura paulista brutalista, o que pode ser constatado na seleção de obras aqui apresentadas.
A tendência brutalista teve grande expansão nos anos 1970 em todo o mundo; no Brasil, além do caso paulista podem ser reconhecidas experiências paralelas em outras regiões, não havendo necessariamente uma relação de influência com a arquitetura paulista, mas sim de dialogo criativo. Nos anos 1980 com mudanças coincidem algumas tecnológicas no setor construtivo e o gradual esgotamento das pautas conceituais do brutalismo, acirradas pelo confronto aberto pelos debates de revisão da modernidade, que ocorrem naquele momento.
No fim do século 20 em diante a arquitetura paulista brutalista vem sendo novamente re-valorizada por sua qualidade e valor artístico de vanguarda, e seu lugar no âmbito da arquitetura moderna, brasileira e internacional, vem sendo reconsiderado. Várias de suas obras já podem ser consideradas como parte importante do patrimônio moderno, e nessa condição, vem merecendo vários estudos e pesquisas por parte de vários estudiosos. A arquitetura brutalista paulista pode ser agora melhor entendida a partir de seus próprios valores arquitetônicos, que são universais e atemporais, e que lhe garantem seu status como um importante aspecto da arquitetura moderna brasileira, uma tendência paralela, superposta e apenas parcialmente tributaria da modernidade brasileira da escola carioca, com a qual guarda um razoável grau de autonomia formal, construtiva e discursiva.
ARQUITETURAS BRASILEIRAS: ESCOLAS CARIOCA E PAULISTA
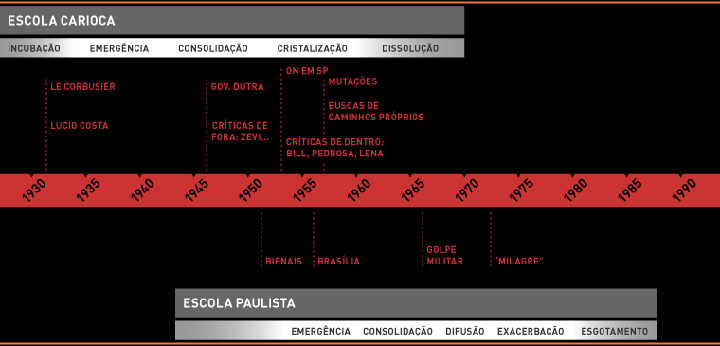
A arquitetura da “escola carioca” [~1935-1965] foi internacionalmente consagrada no imediato pós-2ª Guerra, graças à excelente qualidade de suas obras e à sua oportuna divulgação, potencializada pelo vazio daquele momento de reconstrução. No início dos anos 1950 alguns de seus arquitetos já começam a propor obras que sinalizam novos rumos, podendo-se considerar aquela década como um momento de transformação: seja nas propostas de volumetrias mais simples e taxativas desenvolvidas pelo arquiteto Oscar Niemeyer (n.1907) a partir do projeto do Parque do Ibirapuera (1951-53), seja principalmente no exemplo de Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) no uso precoce de grandes estruturas em concreto aparente, como na Escola Brasil-Paraguai (Assunção, Paraguai, 1952) e no MAM-RJ (Rio de Janeiro, 1953), obras de linguagem brutalista empregando pórticos transversais externos em concreto aparente.
No começo dos anos 1950 os arquitetos João Batista Vilanova Artigas (1915-1984) e Carlos Cascaldi passam a realizar obras empregando concreto aparente, como o Estádio do Morumbi (1952), São Paulo ou a residência Olga Baeta (1956), São Paulo. Assim como Artigas, outros arquitetos então atuantes passaram adotar em suas obras, a partir de fins da década de 1950, a linguagem brutalista; como Lina Bo Bardi (1914-1992), no projeto do MASP- Museu de Arte de São Paulo (1958/1961); Fabio Penteado (n.1928) na Sede do Clube Harmonia (1964); Carlos Barjas Millan (1927 -1964), na residência Roberto Millan (1960); Telésforo Cristófani (1929-2003), no Restaurante Vertical Fasano (1964) e Hans Broos (n.1921), no Centro Paroquial S.Bonifácio (1965).
Uma nova geração de jovens arquitetos formados naquele momento inicia sua carreira contribuindo para a consolidação da variante paulista da tendência brutalista; como Paulo Mendes da Rocha (n.1928), no Clube Paulistano (1958); Joaquim Guedes (n. 1932), na residência Cunha Lima (1959); Francisco Petracco (n.1935) e Pedro Paulo de Mello Saraiva (n.1933) no Clube XV em Santos (1963); Paulo Bastos (n.1936), nos Quartéis General de São Paulo (1965); PPMS com Sami Bussab (n.1939) e Miguel Juliano e Silva, com o Salão de Festas do Clube Sírio-Libanês (1966); Ruy Othake (n.1938) na Casa Tomie Ohtake (1966) e na Central Telefônica Campos do Jordão (1973); João Walter Toscano (n.1933), no Balneário de Águas de Prata-SP (1969); entre muitos outros.
|
|